Gustavo Junqueira, novo presidente da SRB, defende projeto de Nação "com o Agro"
A Sociedade Rural Brasileira (SRB) –www.srb.org.br - tem novo presidente. O jovem Gustavo Diniz Junqueira, 41 anos, foi eleito nesta segunda-feira (03) pelo Conselho Superior da entidade para comandá-la no período de 2014 a 2017. Ele sucede Cesario Ramalho da Silva, que esteve à frente da Rural, nos últimos sete anos. O pleito também renovou parte do Conselho da entidade.
De vínculo familiar histórico com a agricultura, Junqueira é formado em administração de empresas, é mestre em finanças pela Thunderbird School of Management dos Estados Unidos, e trilhou carreira sólida na área financeira. “A construção de um projeto claro de nação para o Brasil passa pelo agro”, diz o novo presidente da Rural.
Segundo Junqueira, está mais do que na hora do setor acentuar a sua participação nas discussões dos mais relevantes temas da agenda pública nacional, de segurança pública, saúde, passando pela educação e combate à corrupção, por exemplo. No entanto, para ser ouvido, pondera o novo presidente da Rural, o agro precisa desenvolver sua visão do Brasil e seu projeto no contexto da economia como um todo.
“Os mesmos problemas – senão piores – que atingem as cidades também atingem o campo”, ressalta, acrescentando: “até a falta de mobilidade – algo antes restrito às grandes cidades – avança pelo interior”.
Junqueira assinala que o agro brasileiro é um grande produto de inovação, e que temos o que o mundo mais quer e precisa: alimento, fibras e energia renovável.
“O Brasil tem a vantagem de poder contar com diversos “agronegócios” bem sucedidos. Nós temos o estilo norte-americano – da produção em larga escala tecnificada de commodities -, bem como o formato europeu – pautado por fazendas menores, especializadas em nichos de mercado e produtos de maior valor agregado”, mas lembra: “nós temos, também, que nos preocupar com o desenvolvimento dos produtores rurais que operam na margem da subsistência”.
O novo presidente da Rural alerta que o estrangulamento da renda do produtor rural não é só um problema da classe, e sim um desafio para toda a sociedade que precisa comer, se vestir, e necessitará cada vez mais de novas fontes de energia limpa.
De acordo com Junqueira, o agro brasileiro organizado, profissional e sério é comprometido com o tecido social e com o meio ambiente. Para o novo presidente da Rural, o Brasil tem que fazer escolhas e reformas. “O setor produtivo não pede ajuda, pede mudanças, que serão fundamentais para todos, e imprescindíveis para o nosso futuro.”
Contudo, na avaliação de Junqueira, antes de pedir ou exigir mudanças, o próprio setor precisa fornecer projetos concretos já com avaliação dos seus impactos nos outros segmentos da economia e sociedade. “Ninguém melhor posicionado que a inteligência do agro (entidades, institutos, líderes) para formular o que se precisa a curto, médio e longo prazo dentro do setor (financiamento, seguro, legislação) e fora dele (infraestrutura, educação, formação profissional, etc). Articular e integrar estes pensamentos e ações é o papel da Rural.”
Segundo o novo presidente da SRB, para ser realmente um país desenvolvido, o Brasil vai precisar produzir tanto produtos agrícolas [commodities e de valor agregado], bem como ter uma indústria forte nos nichos onde isso for possível e um setor de serviços focado em inovação. “A correção de rota não passa pela negação, e sim pela afirmação de nossas instituições”, enfatiza.
Confira isso e muito mais na entrevista a seguir:
Você está assumindo a presidência da Sociedade Rural Brasileira. Para começar, seria interessante que nos contasse sobre suas raízes, laços com a agricultura?
Gustavo Diniz Junqueira: Nasci em 1972 no interior de São Paulo, em Orlândia, na região da Mogiana, importante polo agrícola do Estado. Minha família tem raízes históricas com a agricultura e a pecuária, com destaque para fundação de duas usinas de cana-de-açúcar [a Vale do Rosário, pelo meu bisavô, Nhonhô de Almeida Prado], e a Mandú [pelo meu pai, Roberto Diniz Junqueira]. Hoje atuamos na agricultura com o cultivo de cana, soja e milho e na pecuária com a cria, recria e engorda de gado nelore selecionado com propriedades nos Estados de São Paulo, Pará e Minas Gerais. Além disso, temos uma paixão que é a criação de cavalos mangalarga. Uma raça criada pela minha família no final do século 18 em Minas Gerais e depois difundida por todo o País.
Na sua vida profissional, você trilhou carreira na área financeira –com experiência internacional – e se especializou em fusões e aquisições?
GDJ: Exato. Sou formado em administração de empresas, e comecei minha vida profissional no início dos anos 90 como operador de pregão na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BMF) na área de commodities agrícolas. Em seguida, em 1993, fui trabalhar como trader de commodities na trading suíça Glencore.
Adiante, fiz mestrado na área de finanças nos Estados Unidos, onde morei e trabalhei durante seis anos. Foi neste período que comecei a me especializar no segmento de fusões e aquisições e tive a oportunidade de participar do importante processo de privatização da estatais que tivemos no Brasil na década de 90.
Mais para frente, com o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro passei a atuar diretamente como consultor de investimentos e estruturei a abertura de capital da incorporadora EZTEC, empresa em que passei a ter cadeira no conselho de administração, além de ter participado de negócios entre grandes grupos do setor sucroenergético, alimentos e investidores internacionais. Atualmente também sento no conselho de administração do Banco PINE, instituição financeira com grande presença no agro, onde atuo principalmente na elaboração da estratégia de longo prazo do banco.
E sua ligação com a Rural, de onde vem?
GDJ: Minha família sempre foi ligada a Rural, desde o meu bisavô, avô, meu pai, que foi vice-presidente na gestão do João de Almeida Sampaio Filho. E nos últimos anos, me envolvi de maneira oficial com a entidade ao assumir uma das cadeiras no conselho de administração.
Como você avalia a profissionalização do setor agroindustrial brasileiro nos últimos anos, período marcado, por exemplo, pela transformação de empresas de controle familiar em companhias de capital aberto?
GDJ: Avalio de maneira mais profunda até e como uma evolução natural da atividade. O agro brasileiro tem uma capacidade enorme de inovação, ele próprio, aliás, é um grande produto de inovação, já que o nosso modelo de produção foi desenvolvido aqui, devido às nossas particularidades de clima e solo. O maior símbolo disso é a transformação do Cerrado - uma região originalmente de terrenos pobres - em áreas férteis, por meio da tecnologia em sementes [biotecnologia], irrigação, adubação e manejo. Um dos percursores no uso dessas terras para a agricultura foi meu bisavô Nhonhô de Almeida Prado.
Daí, em seguida, vieram mais inovações, como o plantio direto, o controle biológico de pragas e ervas daninhas, a rotação de culturas, duas/três safras anuais, a integração lavoura-pecuária-floresta, o avanço da mecanização, a agricultura de precisão, e assim por diante.
O produtor rural é um empreendedor nato, ávido pelo que é novo. Porque se não fosse pelo desejo e disposição à mudança, o agro brasileiro não teria se desenvolvido. O produtor se tornou um verdadeiro empresário do campo.
Mas mesmo com todos estes avanços, o produtor sofre hoje com menos renda, certo? Correto. O avanço da geração de riqueza por meio do agro exige cada vez mais capital, e remuneração justa para o produtor. Os custos crescem de maneira exponencial, e as margens estão cada vez mais reduzidas.
Este estrangulamento da renda do produtor não é um problema da classe, e sim um desafio para toda a sociedade que precisa comer, se vestir, e necessitará cada vez mais de novas fontes de energia limpa e renovável.
Se o produtor não for bem remunerado, ele não terá capacidade para empreender novas mudanças, imprescindíveis para atender a crescente demanda interna e mundial por produtos agrícolas. A consequência seria voltar ao patamar do gasto de 45% que a família brasileira tinha com alimentos nos anos 70 antes da revolução tecnológica do agro. Hoje, as despesas com alimentos variam entre 15 a 18% do rendimento familiar mensal. O aumento do poder aquisito do consumidor na compra de alimentos decorre também do incremento de produtividade do agro.
Para aonde estão indo os recursos gerados pelo agro?
GDJ: O agro é o maior gerador de caixa que o Brasil tem, e o País poderia aproveitar melhor isso. Com as receitas das agroexportações, o setor gera um resultado extraordinário, que é drenado pelo gigantesco gasto público necessário para sustentar a monstruosa máquina estatal. Isso tem que ser revisto.
Quais transformações socioeconômicas você enxerga no campo?
GDJ: A despeito dos ganhos socioeconômicos observados no interior nos últimos tempos, não são todos que permanecerão no campo devido aos atrativos de conforto, qualidade de vida que as cidades oferecem. Por outro lado, é possível também – como temos observado em diversas regiões – criar modelos de negócios, estruturas de desenvolvimento que proporcionem remuneração e bem-estar no campo iguais ou até superiores ao que é verificado no meio urbano.
O fato é que, de maneira geral, teremos menos estilos de vidas bucólicos, que são convidativos para o cidadão urbano que enxerga de longe, mas nem tanto para quem vive. Os mesmos problemas – senão piores – que atingem as cidades também atingem o campo, como, por exemplo, deficiências na área da saúde, educação, segurança pública, equidade social, e assim por diante. Até a falta de mobilidade – algo antes restrito às grandes cidades – avança pelo interior.
No âmbito da massa de produtores rurais, os que não tiverem recursos ou capacidade de obtenção de crédito, bem como conhecimentos de gestão além da parte produtiva [administrativa, financeira, pessoas, marketing] sairão do negócio. Quem não souber “se adaptar” vai ter que mudar de atividade, cedendo espaço a quem souber fazer render mais o ativo chamado terra. E isso não se caracterizará por uma consolidação desenfreada, e sim por uma seleção natural das coisas.
O agro brasileiro tem volume, diversidade e qualidade, mas ao mesmo tempo ainda convive com rincões de pobreza. Como reduzir estas diferenças?
Primeiro, é preciso pensar o Brasil partindo do pressuposto de sua dimensão geográfica. No agro, é inegável que existe um campo ainda muito pobre, excluído socioeconomicamente e tecnologicamente. São regiões que permanecem no atraso não, obviamente, por que querem, mas sim porque faltam políticas públicas que ao combinarem características regionais e necessidades dos mercados funcionem como antídoto contra mazelas locais e simultaneamente atuem como indutoras de desenvolvimento.
O Nordeste é um claro exemplo disso. O problema lá não é falta d’água, e sim um misto de ausência de planejamento e de vontade política. É preciso pensar o sertão, o semiárido brasileiro, como, por exemplo, Dubai e os Estados Unidos pensaram os seus respectivos desertos.
Pelo lado positivo da coisa, o Brasil tem a vantagem de poder contar com diversos “agronegócios”. Nós temos o estilo norte-americano – da produção em larga escala tecnificada de commodities -, bem como o formato europeu – pautado por fazendas menores, especializadas em nichos de mercado e produtos de maior valor agregado.
O Paraná, por exemplo, se encaixa no segundo modelo. Formado por diversas correntes imigratórias, especialmente de raízes europeia e nipônica, sua história é marcada mais por um volume expressivo de pequenos e médios produtores. O Estado teve seu momento áureo com o café, e depois evoluiu para a produção de grãos, cana-de-açúcar, suínos, aves, num processo que foi ganhando corpo à medida que setor rural local foi se adaptando a novas oportunidades de negócios. Hoje, o produtor, especialmente o agricultor paranaense está com 100% de área ocupada, trabalhando, em sua maioria, dentro de um sistema cooperativista, em uma dinâmica socioeconômica positiva para o Estado.
Já a ocupação agrícola no Mato Grosso foi diferente, pautada, especialmente por uma migração de produtores rurais do sul do País para lá. Como a natureza do Estado é de largas extensões de terras – característica do Centro-Oeste -, bem como sua infraestrutura de serviços era menor na época de suas primeiras ocupações, a região consolidou-se como sendo de grandes fazendas que foram sendo viabilizadas pelas mãos destes pioneiros. Por lá, não havia uma massa de agricultores locais, diferentemente da região Sul.
Além disso, a abertura de áreas e a necessidade de fertilização do solo exigiam vultosos recursos, disponíveis apenas por grandes proprietários, que para obterem retorno precisavam investir em fazendas também de grande de porte.
Soma-se a isso, o fato de que com o incremento da demanda mundial por commodities, o Centro-Oeste se tornou um dos lugares mais aptos em todo o mundo para este modelo de produção.
Em seguida, a região passou por transformações, com a chegada também de agroindústrias transformadoras [proteína, biocombustíveis], que criaram um espiral de desenvolvimento regional focado na formação de clusters, de arranjos produtivos locais.
Agora, a região conhecida por Mapitoba (Maranhão, Piauí, Tocantins e Oeste da Bahia) trilha roteiro semelhante.
Você costuma dizer que o Brasil não tem projeto, por quê?
GDJ: De fato, não há um projeto claro para o País. Navegamos ao sabor do que o mundo nos apresenta/impõe. Até hoje, somos comprados, nunca vendemos. Ainda carregamos um forte componente extrativista, e nisso as elites/lideranças têm um papel fundamental de propor mudança, de sair da “zona de conforto”. Por hora, sem um propósito definido, o Brasil não sabe aonde quer chegar, e, portanto nada é justificável ou tudo é justificável. Isso certamente influencia nos desvios éticos que observamos diariamente, que alimentam a chaga da corrupção.
Cabe à sociedade brasileira debater em qual direção o Brasil deve seguir. Legislativo e judiciário devem propor e julgar as regras, e o executivo regular e executar, sem intervencionismo em demasia, mas dando condições para que a iniciativa privada invista. No entanto, antes disso os próprios setores devem comunicar sua visão de inserção na economia e sociedade como um todo. Pois apenas os segmentos produtivos possuem uma ideia mais clara sobre as mega-transformações em curso, sobre as tendências das tecnologias e os benefícios e desafios que essas trarão para a convivência pacífica de um país 200 milhões de habitantes.
O Brasil tem que fazer escolhas. Não dá pra fazer de “iPod” a “aipim”. É preciso selecionar, focar, priorizar. A quase totalidade das nações que deram certo fez isso. Não é que o consumidor brasileiro ficará sem este ou aquele produto que deixaremos de produzir. Só é necessário nos conscientizarmos que outros países fazem melhor “X” coisa, e nós somos excelência em outros segmentos, como o agro.
Se não temos “expertise” para fazer “iphones”, temos para desenvolver aplicativos para smartphones. É este o raciocínio que precisamos implantar. Assim, torna-se necessário escolher os setores em que temos potencial, que serão estimulados, que merecerão atenção especial, e os demais deixar o mercado fazer sua seleção natural. Estamos num mundo absolutamente globalizado, e é preciso ser perspicaz.
Especificamente sobre o agro, por hora não adianta fazermos um complexo de farelo e óleo de soja para exportação, se nosso maior cliente (China) só compra o grão, já que há décadas montou uma infraestrutura industrial próxima aos portos. Eles não vão comprar óleo e farelo. Este é o preço da nossa falta de planejamento, de estratégia.
O governo atual, então, é intervencionista além da conta?
GDJ: Sim, o governo atua em áreas que não lhe compete. Sua função é tem que ser reguladora. O Estado não tem que ser dono de petrolífera, de concessionárias de transportes, de administradoras de aeroportos, etc. O governo não tem que se preocupar com atividades que são centros de receita – isso cabe ao empreendedor privado. Cabe ao Estado, cuidar de segurança pública, saúde, educação, entre outras áreas.
O desenvolvimento tem que estar ancorado na livre iniciativa, no empreendedorismo, guiado pelas regras de mercado, obviamente sob supervisão do Estado no tocante à regulamentação, mas não na execução. Devemos nos espelhar em exemplos de países mais eficientes.
O Brasil é um grande player mundial do comércio de commodities agrícolas, mas é criticado por isso. Os críticos dizem que nação desenvolvida é a que tem tecnologia. Falta tecnologia na agricultura?
GDJ: Não, não falta. A questão é que a tecnologia na produção de commodities está no processo e também no produto, mas está camuflada. Este é um típico caso daquele “preconceito enraizado no subconsciente” das pessoas que desatrela o que vem do campo do que pode ser moderno.
O plantio de uma lavoura, por exemplo, exige um elevadíssimo grau tecnológico. São sementes – advindas de anos de pesquisa, maquinários agrícolas com dispositivos de georreferenciamento, análises de solo feitas por cientistas, uso de enzimas para fabricação de biocombustíveis, reprodução assistida e melhoramento genético na produção de carnes, e assim por diante.
Brasil, guardião mundial da segurança alimentar. Estamos longe disso?
GDJ: De certo modo sim. A despeito de termos um agro rico em volume e diversidade, que garante o abastecimento interno com quantidade, qualidade e preço, e das exportações de produtos agrícolas estarem acumulando recorde atrás de recorde, ainda temos uma pauta exportadora focada em commodities e vendemos para uma clientela que poderia ser mais qualificada no quesito “poder aquisitivo”. Mas isso não é de todo ruim – muito pelo contrário – porque nós temos o que o mundo quer hoje e que vai continuar precisando: alimento, fibras e energia renovável.
Além disso, o protecionismo ainda é um mal que distorce o comércio mundial. Todavia, o agro precisa avançar. No âmbito da produção, tem que focar incessantemente em redução de custos, ganhos de produtividade e gestão financeira, bem como na esfera institucional cobrar pelas reformas estruturais - nas mais variadas esferas - a fim de manter sua competitividade e continuar a crescer.
Na visão da Rural, qual deve ser o tratamento dado ao investimento estrangeiro no agro?
GDJ: Todo o investimento é bem-vindo, desde que não coloque em risco a soberania do Brasil. Não sou a favor, por exemplo, do fundo soberano do Estado chinês comprar o pedaço de alguma região nossa. Já o capital externo em propriedades rurais, empresas, institutos de pesquisa, em obras de infraestrutura tem que ser recebido de braços abertos até porque é absolutamente necessário para o País. Primeiro porque o governo não tem recursos para investimento, devido aos gastos com custeio.
E segundo porque o dinheiro de origem estrangeira investido no setor produtivo nacional vai gerar emprego e renda para o Brasil. Seja movimentando as economias locais, seja por meio de receitas das exportações. Aqui, mais uma vez é preciso separar os argumentos técnicos dos ideológicos.
Você morou e trabalhou nos Estados Unidos, o país mais industrializado do mundo e simultaneamente a agricultura mais poderosa. Por lá – diferentemente do Brasil - a agricultura é mais bem reconhecida pela população urbana, por quê?
GDJ: Para falar sobre isso, preciso voltar um pouquinho no tempo. No primeiro período do governo de Getúlio Vargas [década de 30], cristalizou-se a ideia que o mundo moderno era o urbano, e de que o rural significava o que era ruim.
Assim, por exemplo, criaram-se leis para transformar – apenas no papel - vilas em municípios, fazendo com que o mundo rural ficasse associado ao atraso, à pobreza, à estagnação. Erroneamente, o governo da época desestimulou a permanência nas áreas rurais, e incentivou a migração desenfreada para as cidades.
Já daquele período não se fez um trabalho de planejamento para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável tanto do campo quanto das cidades. Por isso, insisto que falta um projeto para o Brasil. As decisões de caráter politiqueiro/particular se suplantam às de interesse público.
Já nos Estados Unidos, a coisa é diferente, pensada, planejada, estruturada. Fazendo um recorte para esta pergunta, lá há maior proximidade entre o produtor e o consumidor. A maioria da sociedade norte-americana sente orgulho da classe dos produtores rurais. E se não sente orgulho, respeita, sabe da importância do “agribusiness” para o bem-estar do País.
O agro carrega certa pecha de ser destruidor de florestas e escravocrata. O que há de mito ou realidade nisso?
GDJ: O Brasil é um país continental e heterogêneo, o que faz do agro um espelho disso. Justamente por esta natureza do País e do segmento é que existem grandes diferenças. Sendo assim, é óbvio que existem casos de desmatamento irregular e de trabalho escravo, mas de sobremaneira estes relatos podem ser atribuídos à maioria dos agentes do setor. O agro brasileiro organizado, profissional e sério é comprometido com o tecido social e com o meio ambiente. A produção agropecuária que não tem esta preocupação não pode ser considerada o agro moderno, não tem apoio e é recriminada pela Sociedade Rural Brasileira.
Por sua vez, o novo Código Florestal – ao contrário do que o senso comum apregoa – é muito mais verde, muito mais favorável ao meio ambiente do que a lei passada. Em primeiro lugar, a nova legislação propõe o reconhecimento por meio de tecnologia de satélite da situação ambiental de todas as propriedades rurais do País. Em seguida, prevê recomposições no caso de supressão irregular da mata. O desafio é a implantação deste processo.
Já na questão trabalhista, a legislação que é aplicada no meio rural para tipificar trabalho análogo à escravidão dá margem a interpretações, abrindo brechas para a subjetividade. Os grupos de fiscalização têm poder de polícia, e basta à visão do fiscal para enquadrar um empreendimento como escravocrata. Grosso modo, confunde-se desacordos com a legislação com escravidão. Uma nova lei para o trabalho no campo precisa ser discutida, com o objetivo de torná-la mais técnica, e menos ideológica. Hoje, ainda temos mais políticas de comando e controle, do que diálogo e planejamento.
Já no próximo futuro veremos uma tendência de converter terras menos férteis e pasto degradado em programas de reflorestamento. O Brasil importa madeira, e a atividade florestal é desenvolvida com mão de obra intensiva. Assim, naturalmente, o setor oferece uma alternativa de trabalho viável para agricultores menos produtivos em lavouras ou produções com alto teor tecnológico. Além desses benefícios socioeconômicos, o reflorestamento de áreas subaproveitadas é uma contribuição direta para a preservação do equilíbrio ambiental.
Continuando no tema ambiental, o que fazer com a Amazônia?
GDJ: Um exemplo é o que se fazer com a floresta Amazônica. No momento em que o País deixar claro: “a Amazônia tem que ficar intacta”, “desmatamento zero”, a regra estará dada, e aí cabe à sociedade se adaptar. O problema é que isso ainda não aconteceu. O Brasil desconhece a Amazônia. É preciso encontrar modelos de negócios/arranjos produtivos específicos por regiões.
Na Amazônia é possível criar áreas delimitadas e organizadas para os setores produtivos [agrícola, mineração, petróleo]. Além disso, há ainda um problema mais básico que é o desconhecimento fundiário da região. Se não se sabe de quem são as terras, se não há fiscalização adequada, como avançar para o próximo passo, de geração de renda com respeito à floresta? Sem alternativa econômica para as pessoas que vivem lá, a floresta não resistirá em pé.
O diretor-geral da OMC, o brasileiro Roberto Azevêdo, estará no Global Agribusiness Forum, em março, na capital paulista. Como você enxerga o atual cenário do comércio agrícola mundial?
GDJ: Antes do Roberto Azevêdo assumir, a OMC patinava. Um misto de transformações no comércio mundial – que exige cada vez mais dinamismo, fruto da globalização – e uma certa inércia/falta de vontade política da organização, que vive sob o estigma de ter que decidir por consenso colocaram a OMC na berlinda.
O maior gargalo do comércio mundial são as transações de produtos agrícolas. Países ricos inundam de subsídios suas produções, bem como têm elevadas barreiras protecionistas a importações e dão suporte financeiro às suas exportações. Este pacote distorce o comércio, e prejudica países como o Brasil, potência na área, mas que perde competitividade por este “jogo nebuloso” dos países ricos, que em muitos casos fere regras estabelecidas na própria OMC. Este cenário, por exemplo, é que suscitou os contenciosos do Brasil contra a política do algodão nos EUA, e do açúcar na Europa.
Os países ricos são avessos a mudanças significativas em suas políticas agrícolas, e ao mesmo tempo pedem a abertura dos mercados industriais e de serviços dos países em desenvolvimento. No meio deste fogo cruzado, a OMC não conseguiu encontrar algum tipo de solução, perdendo credibilidade e representatividade.
Sendo assim, nos últimos anos o mundo foi tomado por acordos bilaterais, e ao mesmo tempo se tornou cada vez mais descrente de decisões por consenso/multilaterais, o mote da OMC. Desta maneira, a organização precisa encontrar resposta para esta pergunta. Como retomar relevância diante desta nova ordem mundial? Será que o multilateralismo, lastro da OMC, ainda tem espaço ou a organização, de repente, precisaria rever seu modelo de decisão por consenso, para algo menos democrático, mas mais pragmático, a fim de resgatar sua importância? Com a chegada do Roberto Azevêdo, e o breve acordo do final do ano passado, a OMC ganhou sobrevida, e precisa se reinventar, a fim de permanecer relevante.
Para o Brasil, sem sombra de dúvidas, um nativo comandando a organização é algo positivo. Resta ao País ponderar se fez certo investir em acordos multilaterais – muitas vezes pautados por decisões ideológicas, e não políticas/econômicas -, num mundo que avançou nas negociações bilaterais. O Mercosul comercialmente, por exemplo, não aconteceu na prática por isso. Porque existem divergências internas, que sabotam um posicionamento uniforme para que o bloco avance em negociações com terceiros, com a União Europeia, por exemplo.
O agro ganhou peso no debate político, e 2014 é ano de eleições. Na sua avaliação, como o setor deve se posicionar no pleito?
GDJ: Temos que construir uma visão de longo prazo para o Brasil, pensando em 2050, 2100, não apenas nos próximos quatro anos. No fundo, nem governo, nem oposição têm um plano para o País. O que existe é uma disputa pelo poder.
Independente de quem seja o futuro presidente, o próximo governo tem que compreender e tratar o agro como um setor importante para o País – item de segurança nacional, o que de fato ele já mostrou que é.
Se o setor é o mais bem sucedido do Brasil e a percepção da sociedade em relação a isso avançou, está mais do que na hora do agro acentuar a sua participação nas discussões dos mais relevantes temas da agenda pública nacional.
Segurança pública, saúde, educação, combate à corrupção, mobilidade urbana e equidade social. O agronegócio precisa se posicionar de modo mais agudo no debate destas questões. Os mesmos problemas – senão piores – que atingem as cidades também atingem o campo. O agronegócio pode e deve contribuir como um importante agente transformador.
Então, para a Rural o que importa é que o próximo governante esteja alinhado com o nosso pensamento, que tem como lastro a democracia, a livre iniciativa, com menos intervencionismo, mais segurança jurídica e respeito às instituições.
O que não podemos é ficar revisitando temas do passado, como, por exemplo, questionamentos acerca do Direito de Propriedade.
O imbróglio vigente relativo à demarcação de reservas indígenas é um caso. A grande maioria das áreas reivindicadas tem títulos de boa fé, expedidos pelo Estado. Os proprietários estão lá legalmente há décadas. Contudo, se o propósito é conceder a terra aos índios, que elas sejam compradas, e não desapropriadas sem critério, pelo governo, como tem sido feito.
Além disso, temos a expectativa que o novo Congresso Nacional estabeleça como prioridade as diversas reformas que o País precisa, da tributária, avançando pela da previdência, a trabalhista, a política, e assim por diante.
Outro ponto importante é uma análise relativa ao excesso de sindicalização no Brasil, seja ela patronal ou dos trabalhadores. Para a Rural, se trata de um entulho institucional.
O que o agro entregou para o Brasil?
GDJ: O setor fez, e muito bem, o papel dele, fazendo com que o seu resultado tenha influência direta no PIB do País. À exceção do apoio governamental no tocante ao aumento de crédito rural nos últimos anos, enxergo que o agro cresceu à revelia do Estado e tem contribuído muito com o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, não podemos alimentar uma competição entre o agro, a indústria e o segmento de serviços. Para ser realmente um país desenvolvido, o Brasil vai precisar produzir tanto produtos agrícolas [commodities e de valor agregado], bem como ter uma indústria forte nos nichos onde isso for possível e um setor de serviços focado em inovação.
O problema é que diante do quadro em vigor, até quando o agro terá forças para segurar as contas e as pontas do País? O setor não pede ajuda, pede reformas, mudanças que serão fundamentais para todos, e imprescindíveis para o nosso futuro.
É preciso reconstruir um ambiente favorável ao investimento. As políticas sociais do governo atual – diga-se de passagem, exitosas – não mais bastam. Mais do que estimular o consumo, o que o Brasil precisa agora é incentivar sua produção. Caso contrário, até as conquistas sociais dos últimos tempos estarão ameaçadas de retrocesso.
Olhando para o futuro, um fenômeno interessante que vem acontecendo no agro brasileiro é a retomada do interesse dos jovens pelo campo, certo?
GDJ: Isso é verdade. O Brasil tem hoje esta particularidade em relação ao “agribusiness” do resto do mundo. A maciça presença de jovens. O crescimento do setor vem demandando novas profissões, e os jovens – inclusive das cidades - passaram a observar o segmento rural como uma boa oportunidade de carreira. São novos administradores, economistas, gente ligada à tecnologia, engenheiros, comunicadores, e assim vai. Soma-se a isso, o fato de que o desenvolvimento gerado pelo setor nos municípios espalhados pelo País cria a necessidade de advogados, dentistas, médicos, corretores, etc. É uma gama enorme de oportunidades de trabalho ligada direta ou indiretamente ao agro. Além disso, observamos também que as novas gerações – nascidas no campo – voltaram a se interessar pelo negócio rural de suas respectivas famílias.
Para encerrarmos, gostaria de deixar uma última mensagem.
Gostaria de reiterar o recado de que o Brasil não tem um projeto claro para o País. Vivemos, neste ano eleitoral, um período delicado. A retomada do crescimento exige estabilidade econômica, planejamento e excelência em execução. A correção de rota não passa pela negação, e sim pela afirmação de nossas instituições. O que está errado é a condução delas. A Rural está preparada e vai participar deste debate, com foco na construção do nosso amanhã.

Gustavo Diniz Junqueira assume a entidade para o período 2014 a 2017
* Crédito da foto: Alex Steiner
0 comentário
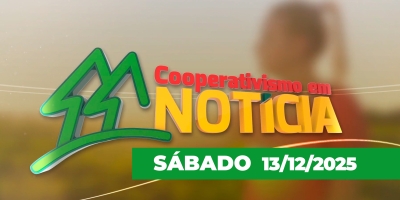
COOPERATIVISMO EM NOTÍCIA - edição 13/12/2025

Minerva Foods avança em duas frentes estratégicas e alcança categoria de liderança do Carbon Disclosure Project (CDP)

Pesquisador do Instituto Biológico participa da descoberta de novo gênero de nematoide no Brasil

Secretaria de Agricultura de SP atua junto do produtor para garantir proteção e segurança jurídica no manejo do fogo

Manejo do Fogo: Mudanças na legislação podem expor produtores a serem responsabilizados por "omissão" em casos de incêndios

Primeira Turma do STF forma maioria por perda imediata do mandato de Zambelli
