“Quando o Brasil murcha, murcha uma parte de nós”, por Juan Árias, do EL PAÍS
Li com uma mistura de admiração e dor a afirmação de Fernando Gabeira em sua coluna do Globo: "quando o Brasil murcha, murcha uma parte de nós". Admiração, porque evidencia que o Brasil constitui uma parte da identidade de cada um dos brasileiros.
Dor porque dá a entender que a vontade de mudança no país está ao mesmo tempo ameaçada por esse murchar. Algo que os brasileiros sentem como que lhes pertence por direito e lhes estão roubando.
Sempre me impressionou o fato de que, quando pergunto a alguém desse país como se sente, responde sem hesitar: "brasileiro".
Daí que eles gozem e sofram com essa identidade que lhes concede pertença ao país. Não é assim em outros povos do planeta? Não. Essa sensação de gozo de pertença e essa dor que se percebe quando o lugar de origem começa a se deteriorar é uma das características que nós, estrangeiros, notamos e admiramos nos brasileiros.
Sou espanhol e dificilmente esses sentimentos que Gabeira atribui a seus compatriotas, que sofrem e desfrutam por serem brasileiros, existem entre nós. Ao menos não com essa intensidade. Mais do que isso, temos regiões na Espanha em que as pessoas dizem abertamente que não se sentem espanholas.
Lembrei mais de uma vez que uma das características do Brasil é que nele predomina mais a linha curva que a reta, mais a circunferência que o ângulo. E não é um mistério que a curva evoca a condição feminina. Também o amor de mãe se identifica mais que o amor de pai com a curva, com a compreensão frente aos erros dos filhos. O amor paterno é mais severo, mais anguloso e exigente.
Essa foi a sensação que me transmitiram as palavras de Gabeira, e essa dor subliminar escondida em suas palavras não pode ser ignorada nesses momentos em que o Brasil atravessa uma crise política e social e se encontra às vésperas de decisões importantes para seu futuro, como são sempre as eleições presidenciais. Por essa condição feminina do Brasil, o protesto e a indignação podem parecer às vezes menos violentos, mas podem ser ao mesmo tempo mais profundos e dolorosos.
A pátria tem conotações maternas, assim como a língua com que as pessoas se identificam.
O verbo "murchar", usado para descrever o que se está vivendo, se relaciona com uma parte da idiossincrasia desse país, que se ama como brasileiro e não saberia ser outra coisa.
Por isso, se é certo que quando o Brasil como um todo começa a naufragar, se sente afogado, "uma parte de nós" também se sente assim, como diz Gabeira.
É compreensível que a frustração de perder as esperanças de uma superação (econômica, social, ética e até política) possa resultar aqui mais profunda e dolorosa que em outros lugares.
Equivale a dizer: se o Brasil chora, choram também os brasileiros por essa pena da qual cada um se sente parte. E como farão para não se irritar com esses vendavais de corrupção que fustigam o país, suas instituições e seus representantes políticos?
É um murchar que evoca uma deterioração materna; é a dor do filho que vê se apagar, através dos olhos cansados da mãe, uma parte de sua própria esperança.
O Brasil suporta mal a condição de órfão, como a circunferência não admite farrapos e buracos negros.
Sua vocação está amalgamada com os ingredientes do encontro festivo e da felicidade. Quando ela murcha, sua própria identidade acaba ferida.
Tomara que uma nova e próxima primavera faça com que tudo volte a florescer. Por ora, tudo se apresenta semeado pelas folhas secas que se desprendem da indignação, do medo e de certo desalento geral.
A não gente que não vive no Tapajós, por Eliane Brum
A extraordinária saga de Montanha e Mangabal, da escravidão nos seringais à propaganda do governo que pretende botar uma hidrelétrica na terra que habitam há quase 150 anos
De repente, a comunidade de Montanha e Mangabal apareceu no noticiário. Em 27 de agosto, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, anunciou em cerimônia que o governo federal destinaria “3,2 milhões de hectares para reforma agrária e preservação ambiental” na Amazônia. Entre os destinos dessa terra é citada a criação do “Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Montanha e Mangabal”, no município de Itaituba, no Pará. O anúncio foi destacado no “Muda Mais”, um “site de apoio à candidatura à reeleição de Dilma Rousseff”, num momento em que a presidente era criticada por sua política para a Amazônia. Dias depois, o governo marcou para 15 de dezembro a data do leilão de São Luiz do Tapajós, a primeira das grandes hidrelétricas planejadas para a região. Vale a pena botar uma lupa sobre esses dois nomes bastante enigmáticos – Montanha e Mangabal – para fazer a necessária relação entre as notícias produzidas pelo governo em momento eleitoral e ampliar a compreensão sobre o trato da Amazônia. Na comunidade de Montanha e Mangabal está contida a extraordinária luta de um povo para tornar-se visível para o Brasil que o desconhece. E, ao existir para os olhos do país, preservar sua terra e sua vida.
O povo de Montanha e Mangabal enfrenta hoje o momento mais crítico em quase 150 anos de uma trajetória povoada por épicos. Se o Complexo Hidrelétrico da Bacia do Tapajós for implantado, como Dilma Rousseff pretende, ele será passado. No território em que vive a comunidade, assim como outras populações ribeirinhas e indígenas, está sendo gestada a mais acirrada luta socioambiental depois de Belo Monte. É nas margens do Tapajós que será decidido o próximo capítulo do que é o futuro, para o Brasil. E também se povos como o de Montanha e Mangabal estarão nele.
Seguir a trajetória de homens e mulheres ao longo de 70 quilômetros das águas azuladas do Tapajós, um dos mais belos rios do mundo, é uma aula de anatomia sobre a ocupação da Amazônia. É também testemunhar uma das vitórias mais bonitas de um povo que construiu sua memória pela oralidade no mundo da palavra escrita. Uma vitória sempre provisória, como eles têm aprendido desde que os primeiros “pesquisadores” – biólogos, arqueólogos, antropólogos, sociólogos etc – apareceram com a missão de fazer o levantamento da área para a implantação das hidrelétricas de São Luiz do Tapajós e Jatobá.
Os “pesquisadores”, para os povos da floresta, são uma espécie de atualização das caravelas dos portugueses apontando no horizonte. Quando os Munduruku prenderam três biólogos, em julho de 2013, parte dos brasileiros de outros Brasis achou que os índios cometiam uma atrocidade. Selvagens, proclamou-se, num salto para trás de 500 anos. Para os Munduruku, era exatamente o contrário. Eles apenas sabiam, numa história inscrita nas gerações, que era um anúncio do fim do mundo - do fim do seu mundo.
Em 27 de agosto, a Sociedade de Arqueologia Brasileira publicou uma nota conclamando os arqueólogos a “não participarem de atividades relacionadas ao licenciamento ambiental das barragens da bacia do Tapajós enquanto este processo seguir em um contexto de violações dos direitos das comunidades afetadas”. Entre as afirmações: “O processo de estudo de impacto ambiental e de construção de uma série de barragens relacionadas ao Complexo Teles Pires e Tapajós vem ocorrendo em flagrante desrespeito aos direitos dos povos da floresta que vivem na região. A argumentação de que o impacto das barragens será pequeno devido a um pretenso vazio demográfico não se sustenta, ainda mais quando considerarmos a longa ocupação humana da bacia evidenciada pelo registro arqueológico da região”.
Para os povos da floresta, os "pesquisadores" são a atualização das caravelas apontando no horizonte como um anúncio do fim do mundo
Até agora a Sociedade de Arqueologia Brasileira foi a única entidade de classe que demonstrou preocupação com o fato de seus associados contribuírem com a destruição de povos, culturas, espécies animais e vegetais e registros arqueológicos. As demais parecem acreditar não existir nenhum impedimento ético no ato de fazer “pesquisa” acompanhados por homens armados da Força Nacional reprimindo a população “pesquisada” – o que diz bastante do material humano que tem sido formado pelas universidades brasileiras.
O encontro entre os ribeirinhos e os entrevistadores responsáveis pela coleta de informações rendeu cenas de surrealismo explícito. Era um total desencontro de Brasis, as perguntas do questionário não faziam qualquer sentido para a maioria dos moradores de Montanha e Mangabal. Chico Augusto, por exemplo, é um dos homens mais respeitados da comunidade. Sua fama de benzedeiro corre mais que o rio. Passado dos 80 anos, ele mora sozinho, sua casa a horas de remadas da casa mais próxima. Mas é uma solidão povoada a de Chico Augusto, porque a floresta e o rio e o que neles habitam, visível e invisível, tudo fala com ele.
Então, chegou o entrevistador – ou, como se diz por lá, “aquele povo do Diálogos Tapajós”, que é como se apresentam. Qualquer papel já faz seu Chico Augusto passar nervoso. “Hum hum”, ele manifesta-se. As perguntas para ele eram incompreensíveis. Instado a dar uma resposta, ele teve de se decidir por uma. “O que o senhor e a sua família fazem nas horas vagas?” Seu Chico mandou marcar a opção que dizia: “Ir à cidade ou ao centro da cidade”. “Horas vagas” é um conceito inexistente na vida do seu Chico Augusto, na cidade ele foi pela primeira vez aos 78 anos: para fazer sua certidão de nascimento. A jornada mítica já se integrou à memória oral da comunidade.
Outra pergunta: “O que faz com o lixo?” E seu Chico, sem saber o que diabos estão lhe perguntando, manda tascar: “Jogado em terreno baldio ou praça pública”. Lá no meião do rio, seu Chico dá o que é de comer pros cachorros, o resto aproveita tudo. Quando lhe perguntaram sobre os Correios, falou que ia para Itaituba no caso de precisar usar o serviço. “O que é correio?”, me perguntaria depois. Seu Chico trancou os documentos à chave, numa caixa de madeira herdada de um velho amigo. É lá que estão as coisas importantes e também as coisas ameaçadoras, as que não devem sair por aí assombrando o mundo.
Ao anunciar que “as primeiras hidrelétricas do tipo plataforma (São Luiz e Jatobá, no Tapajós) seriam licitadas até o fim de 2014”, a Agência Brasil entrevistou Maurício Tolmasquim, presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), responsável pela realização dos estudos para o planejamento do setor energético. Ele explicou que esse tipo de hidrelétrica “será usado em áreas da floresta amazônica onde não há ocupação humana”. A explicação ecoa um dos slogans da ditadura civil-militar para a Amazônia, nos anos 70: “Terra sem homens para homens sem terra”. Ou a famosa expressão, também muito popular naqueles anos tenebrosos: “Deserto verde”. Ou ainda: “Ocupar para não entregar”. Entregar para quem?, é a pergunta óbvia e, lamentavelmente, ainda atual na democracia tão duramente conquistada, inclusive pela atual presidente. Talvez seja entregar para os índios, os ribeirinhos, os quilombolas, aqueles vistos como “estrangeiros” pela parcela do Brasil a qual convém desconhecê-los.
A condição de não gente, de inexistir na categoria dos humanos, parece ser o status dos povos da floresta no caminho das grandes obras amazônicas ao longo da história do Brasil. Que essa ideia permaneça, na prática dos governos e na indiferença de parte da população brasileira, é algo que diz muito da violência e do racismo dessa sociedade ainda hoje. É para ser reconhecido como gente, parte do mundo dos humanos e parte do Brasil, que o povo de Montanha e Mangabal fez um longo percurso. As fotos do ecossistema que abriga Montanha e Mangabal, assim como dos homens, mulheres e crianças que lá vivem, mostram a beleza do mundo que será destruído e a face humana daqueles que como humanos não são reconhecidos. Elas foram generosamente emprestadas para compor esse artigo pelo fotógrafo Lilo Clareto, que há mais de uma década passou a documentar comigo as populações invisíveis ameaçadas de extinção simbólica – e também física. As imagens foram feitas durante as semanas que permanecemos em Montanha e Mangabal, em agosto de 2013, bancados por nossas economias, para um trabalho de reportagem ainda inédito.
Chico Augusto foi à cidade a primeira vez aos 78 anos: para tirar certidão de nascimento
A extraordinária história dessa comunidade, hoje composta por quase duas centenas de pessoas, começa na segunda metade do século 19. Começa é um modo de dizer, porque os antepassados da atual geração já vinham de uma longa trajetória de exclusão. Buscar as raízes dos ribeirinhos das várias Amazônias, assim como dos pequenos agricultores que lá vivem em projetos de assentamento, é traçar uma genealogia da constante expulsão dos pobres que atravessa a história do Brasil. São habitantes de um caminhar, mais do que de uma terra. Até alcançar o norte do país, seu território é o êxodo.
A Amazônia desponta como a última possibilidade de um lugar – e de um existir sem fome. Assim foi também com os nordestinos que alcançaram essa região do Alto Tapajós atendendo ao chamado dos seringalistas que precisavam de mão de obra para extrair o leite das seringueiras e abastecer o então lucrativo negócio da borracha. As condições eram brutais, e tudo o que ganhavam não ganhavam, já que se transformava nos produtos que precisavam para sobreviver na floresta e só eram vendidos pelos patrões. Trabalhar era também começar uma dívida que os escravizava. Estavam lá, como de hábito, atendendo a um projeto do governo brasileiro. Eram a carne necessária, que valia pouco. A carne dos desesperados.
Os povos indígenas da região, entre eles os Munduruku, eram os Outros que assistiam com pavor à invasão do seu território ancestral. Na falta de mulheres do mundo que deixaram, é pelo roubo das indígenas que os seringueiros começam uma família. A violência do rapto e do estupro e do casamento forçado se inscreveu na memória das gerações que dessas forças resultaram como histórias folclóricas, mais engraçadas do que trágicas. Inscreveu-se como causos repetidos de geração em geração sobre a história da bisavó ou da avó roubada. Mas, se a maioria dos de hoje tem antepassados indígenas, isso não significa que sejam índios. A identidade de ribeirinho ou beiradeiro é outra. Dá conta de uma síntese que traz sua própria complexidade. Assim, entre os ribeirinhos de Montanha e Mangabal e as aldeias indígenas instalou-se uma certa distância regulamentar, uma convivência desconfiada.
A condição de não gente, de inexistir na categoria dos humanos, parece ser o status dos povos da floresta no caminho das grandes obras amazônicas
Neste sentido, o momento histórico é interessantíssimo. Quando o atual governo passa a tratar todos os que lá habitam como não gente, as comunidades indígenas e ribeirinhas consumaram uma aliança inédita. Começaram a se frequentar, tanto em reuniões oficiais para discutir o que fazer diante da ameaça das hidrelétricas, como em eventos sociais e até em visitas informais de margem a margem – margem aqui compreendida em mais de um sentido. Passa a ser comum escutar no discurso dos ribeirinhos a menção a um “sangue” comum com os índios, que de fato têm, como se viu, mas que até então tinha um significado inteiramente diferente. Os Munduruku tornam-se “parentes”, os ribeirinhos descobrem-se “índios”. O reconhecimento de uma identidade comum, positiva, se dá como consequência da identidade negativa, conferida pelos de fora do Tapajós, o governo brasileiro. É assim que, neste momento, ribeirinhos e indígenas buscam forjar uma estratégia compartilhada de resistência.
Em 2013, Francisco Firmino da Silva, 62 anos, mais conhecido como Chico Caititu, foi o enviado especial da comunidade de Montanha e Mangabal para participar da ocupação do canteiro de obras de Belo Monte com os Munduruku, em Altamira. Acabaram em Brasília. Chico já era homem de preto no branco, voltou da experiência irmanado com os índios, o corpo pintado com jenipapo e muito mais opinioso. “Eu fui porque queria trazer a verdade sobre a barragem. O (ministro) Gilberto Carvalho disse pro cacique-geral que a barragem ia sair porque a Dilma precisava dela. O cacique disse então que a guerra já tinha começado. Minha amiga, eu posso não conhecer bem a leitura, mas burro não sou. Nós existe aqui, a gente prova que a gente existe aqui!”
Chico ergue a voz, Chico até cresce: “Todo mundo aqui é ser humano. Vai acabar toda a nossa felicidade de viver na floresta. É como os índios disseram, nós não quer carro novo, nós não quer cesta básica, a gente quer é nossa floresta viva. Desde criança eu sempre vivi dentro da floresta brasileira. Nunca esperava que tivesse um governo pra cometer um crime desse. Esse horror de barragem não é pro Brasil, é pra jogar pra lá. É acabar com nós e dar vida pros outros”. E termina, o peito magro em perigoso sobe e desce: “Era importante que toda parte do Brasil soubesse o que tá acontecendo com nós. Não é só aqui no Tapajós, é na cabeceira da Amazônia inteira. Não querem tratar nós como brasileiro, mas como um objeto qualquer”.
No início do século 20, quando a borracha deixou de ser lucrativa, a maioria dos seringalistas partiu com o lucro que amealhou em décadas de exploração. Os seringueiros ficaram. Porque já haviam alcançado a última fronteira e não tinham mais nem para onde ir nem como voltar, mas também porque já pertenciam ao lugar. Porque já eram outros. O fato de pertencer ao lugar mais do que o lugar pertencer a eles é uma marca da identidade ribeirinha que assinala uma relação profunda, visceral, com o território. Ainda que circunscrita a um espaço determinado, cujas fronteiras cada um carrega como uma informação quase inata, a maioria das famílias vai migrando por ele, morando ora num ponto, ora em outro do rio. Montanha e Mangabal formam uma geografia física e sentimental conjugada no coletivo. É só bem mais tarde, que, para ganhar documento, vão se fixar cada qual no seu canto, obedecendo, para sobreviver, à lógica do estatuto fundiários brasileiro que compreende a terra como mercadoria.
A partir da decadência da borracha e do abandono pelos patrões, o povo seguiu na beira do Tapajós ao longo do século 20, plantando gente na floresta e sendo moldada por ela. O Estado, que já não precisava deles como mão de obra para nenhum “projeto nacional”, simplesmente esqueceu daqueles homens e mulheres. E eles se viraram como puderam – e se viraram bem, à deriva de um Brasil que os negava, mas não à deriva de si mesmos.
Só foram redescobertos pelo Estado nos anos 70 do século passado. Para implantar o Parque Nacional da Amazônia, o governo expulsou-os de parte do seu território com enorme truculência. De novo, resistiram como puderam e se reagruparam mais acima, na margem esquerda do rio. O Estado, para eles, como para a maior parte dos povos da floresta, é uma força violenta que interfere em sua existência de tempos em tempos para aniquilá-los. Foi assim nos anos 70, durante a ditadura civil-militar, voltou a ser assim neste momento, quando o governo democrático do PT anunciou as grandes hidrelétricas do Tapajós. O curioso é que, para facilitar o caminho para a implantação de São Luiz do Tapajós, a presidente Dilma Rousseff simplesmente arrancou, em 2012, uma fatia de 18,7 mil hectares do Parque Nacional da Amazônia, reduzindo a área de preservação ambiental. O naco amputado foi justamente a parte do território de onde o povo de Montanha e Mangabal tinha sido expulso. É fácil perceber por que os desígnios do Estado são inacessíveis para as populações por eles atingidas.
Mauricio Torres, doutor em Geografia pela Universidade de São Paulo (USP) e um dos poucos pesquisadores brasileiros que conhece a realidade fundiária do Pará em profundidade e em campo, assim descreve a trajetória da comunidade: “A população de Montanha e Mangabal teve seu embrião nos tempos da intensificação da exploração da borracha, em meados do século 19, quando parte de seus ascendentes se instalou naquelas margens do Alto Tapajós. Desde então, eles resistiram à escravização por dívida na forma do aviamento, venceram as incertezas vindas com o fim dos tempos da seringa, encontraram soluções quando acabou o comércio das peles de gatos (onças, veados, gato maracajá etc), sobreviveram à chegada e à derrocada dos garimpos, à malária, à contaminação por mercúrio e ao que mais foi preciso. Na década de 1970, muitos deles foram expulsos com requintes de truculência de parte de seu território com a criação do Parque Nacional da Amazônia. Mas a gente de Montanha e Mangabal persistiu também a isso e todos se reagruparam rio acima. Os anos 70 trouxeram ainda o acirramento da grilagem incentivada pelo garimpo e pelas obras da BR-163. Os beiradeiros concentraram-se na margem esquerda do rio Tapajós e, unidos, resistiram. Então apareceu a Indussolo, uma empresa paranaense autora da mais grandiosa e sofisticada fraude fundiária das tantas que a Amazônia é palco. Inventou a espantosa soma de 1.138.000 hectares, engolindo Montanha e Mangabal inteiras”.
É nesse momento, no ano de 2004, que as trajetórias de Mauricio Torres e da comunidade se cruzam, numa das andanças do pesquisador pela região. É nesse momento também que entra em cena um terceiro personagem, o procurador da República Felipe Fritz Braga, um dos homens mais notáveis do Ministério Público Federal, hoje em Brasília. Juntos, eles protagonizam uma das mais belas histórias de documentação da identidade do Brasil, um livro ainda por ser escrito.
Historicamente, a palavra escrita foi um instrumento de dominação dos pobres pelas elites. Vale o papel, em detrimento da oralidade. Para essas populações, durante séculos a forma de transmissão do conhecimento foi – e ainda é, em muitos casos – pela narrativa oral. Num ato de extrema violência, todo o conhecimento desses povos é interpretado como algo sem valor por aqueles que comandam o país, fazem as leis e decidem o que é justiça. Assim, inúmeras vezes, os documentos falsos de grileiros se impuseram sobre a memória oral de indígenas, ribeirinhos e quilombolas, arrancando-os de terras habitadas por eles há dezenas de gerações. Era assim que a grileira Indussolo pretendia, mais uma vez, vencer.
Quando o atual governo passa a tratar a todos como não gente, indígenas e ribeirinhos fazem uma aliança inédita de resistência
Ao lado da comunidade e, em especial, de uma ribeirinha chamada por todos de Dona Santa, o pesquisador e o procurador foram descobrindo pistas para que a oralidade pudesse ser provada também pela escrita. Dona Santa, morta em 2009, era a memória do povo de Montanha e Mangabal. Cega, ela gravava a narrativa de gerações na cabeça, dos fatos e causos aos nascimentos e mortes. E com sua voz de velha, tomada pela autoridade que dela imanava, ia desfiando os acontecimentos que poderiam provar a existência da sua gente sobre aquela terra. A partir dessas pistas, Mauricio Torres mergulhava nos arquivos para buscar a comprovação nos documentos e Felipe Fritz Braga montava uma ação que seria reverenciada como uma obra-prima.
Cada fragmento de palavra escrita é somado. Em 24 de fevereiro de 1875, por exemplo, Frei Pelino de Castrovalvas escreve em suas memórias os nomes daqueles “generosos que, com tanto perigo e sacrifício, salvaram a vida de um pobre missionário e 17 índios em circunstância tão desesperadoras: Antonio Martins de Bragança, Antônio Siqueira dos Anjos e dois outros com o nome de João Siqueira”. Em seu diário de viagem, o naturalista francês Henri Coudreau registrou ter sido “fidalgamente” recebido por Matheus Pimenta, em 12 de setembro de 1895. Hoje, um dos descendentes deste Pimenta é o presidente da comunidade. Navegando pelo Tapajós, Coudreau assim descreveu a paisagem: “céu de doçura infinita: os raios de ouro erguem-se no suave azul, e até as nove horas, tudo fica terno e doce”.
Alguns documentos que agora salvam revelam as entranhas do Brasil. Como o de Lausminda de Jesus, 74 anos, que provou a antiguidade de sua linhagem com uma escritura em que seus antepassados eram elencados como patrimônio do seringalista. Com o documento que se apropriava do corpo de seus avós, ela provou seu pertencimento ao corpo da terra, o único em que pode ser livre. De documento em documento a comunidade de Montanha e Mangabal conseguiu provar no mundo do Outro, no mundo dos letrados e dos cartórios, que existem ali há quase um século e meio: oito gerações nascidas e enterradas às margens do Tapajós.
Naquele momento de festa, donos de uma vitória inédita no judiciário brasileiro, o povo de Montanha e Mangabal acreditou que sua existência estava garantida e bastaria agora viver. Pela primeira vez o Estado aparecia sem ser como uma força de aniquilação. Tornaram-se visíveis. Fizeram carteira de identidade e alguns, como Chico Augusto, tiraram sua certidão de nascimento com quase 80 anos de idade. Os mais velhos começaram também a receber aposentadoria rural. Pegaram um avião e foram a Brasília defender a transformação de seu território numa Reserva Extrativista, uma aventura para sempre lembrada como assombrosa. Seu Toti Geraldo, por exemplo, tentou embarcar com uma faca e um saco de folhas, ervas, cipós e raízes. A faca serviria para arrancar a casca, cortar as folhas, manusear seu rico arsenal. Ao ser barrado, tentou explicar para uma atônita funcionária que aquela era a sua nécessaire de remédios: “Sou um homem muito doentio!”.
A viagem ao centro do poder fracassou. O povo de Montanha e Mangabal descobriu, mais uma vez, que sua sina era ser um Brasil à margem do Brasil. O pedido foi recusado porque seu território estava no caminho do Complexo Hidrelétrico da Bacia do Tapajós. Tentaram então um Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE), que foi engavetado. Só em 3 de Setembro de 2013 seria criado o PAE Montanha e Mangabal, uma forma de destinação territorial mais fácil de ser cancelada do que uma reserva extrativista. O PAE foi assinado por um superintendente regional do Incra depois de ter sido pressionado para apresentar números que servissem para rebater o conhecido fiasco do atual governo na reforma agrária. Quando assessores em Brasília perceberam a localização, já era tarde demais para voltar atrás: a criação de um projeto de assentamento para a população agroextrativista na Amazônia era tão surpreendente, em um governo notável pelo recuo nessa área, que já tinha virado matéria inclusive da imprensa internacional. É esse projeto, criado um ano atrás, que curiosamente foi incluído na cerimônia de 27 de agosto em que se anunciou o investimento do governo em preservação na Amazônia.
No Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) de São Luiz do Tapajós, feito por um consórcio de empresas interessadas, entre elas a construtora Camargo Corrêa, afirma-se que “a interferência do reservatório” sobre a comunidade de Montanha e Mangabal será “muito pequena”, “permitindo a reorganização das propriedades sem remoção das famílias”. É sempre curiosa a escolha das palavras nesse tipo de relatório. “Reorganização”, por exemplo. Como se a transformação de um rio em um lago fosse uma mera mudança de nomenclatura. Como se a transformação radical de um ecossistema, em torno do qual se constrói todo o modo de vida agroextrativista, não alterasse a vida ali.
Parece que nada se aprende com o passivo ambiental e humano deixado por hidrelétricas como Balbina e Tucuruí, nas quais populações oficialmente “não afetadas” foram obrigadas a deixar sua terra, sem receber um centavo do governo, por absoluta impossibilidade de nelas seguirem vivendo a partir do momento em que o ciclo da natureza foi alterado. A comunidade de Montanha e Mangabal poderá ainda ser cortada pelo meio com a implantação da segunda hidrelétrica planejada para a região, a de Jatobá. De fato, não é que nada se aprende, apenas não importa o destino dessas populações para setores do Brasil, como prova a História. Esses setores estão sempre bem representados nos mais variados governos, como também está provado.
É escandaloso que o leilão de São Luiz do Tapajós tenha sido marcado antes de sequer ter começado o processo de consulta das comunidades atingidas. A consulta prévia, livre e informada é prevista na convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Não foi cumprida em Belo Monte, o que provocou grandes danos à imagem do país também em nível internacional. Ao marcar o leilão, o governo do partido que se construiu tendo por base os movimentos sociais mostra que a implantação da hidrelétrica já está decidida – e que ouvir as populações é só um ato pró-forma. Só existe uma opção: ou o leilão é suspenso ou, mais uma vez, o Brasil violará todas as regras e não haverá consulta prévia.
Historicamente a palavra escrita foi um instrumento de dominação dos pobres pelas elites
As intenções tornaram-se ainda mais explícitas quando Dilma Rousseff acusou sua principal adversária nesta eleição, na quinta-feira (11/9), de ter causado atraso nas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, no rio Madeira, ao demorar no processo de concessão de licenças ambientais na época em que era ministra do Meio Ambiente. O fato de ter licenciado Jirau e Santo Antônio, outras duas usinas polêmicas, que vem causando um sério passivo ambiental e humano, é uma das decepções e motivo de desconfiança de parte dos movimentos socioambientais e de direitos humanos com Marina Silva. Mas, ainda assim, Dilma Rousseff sente-se confortável para criticar o investimento de tempo necessário no processo de licença ambiental de empreendimentos que afetam a vida de milhares de seres humanos – como sempre, os mais desamparados.
Nessa simulação de consulta nada prévia para a implantação de São Luiz do Tapajós, apenas os Munduruku serão ouvidos. Conforme denunciou o Ministério Público Federal, comunidades agroextrativistas e ribeirinhas não serão consultadas. “Ribeirinhos e agroextrativistas são tão sujeitos de direitos da Convenção 169 quanto os indígenas e devem ter direito a uma consulta apropriada também. Afirmar o contrário é mais uma vez incidir num discurso hegemônico, em que os diferentes modos de viver e se relacionar com a floresta são desconsiderados”, criticou o procurador da República Camões Boaventura. Em reunião no início de setembro para discutir o processo de consulta havia representantes de Montanha e Mangabal, mas o governo fez questão de registrar que estavam ali a convite dos índios.
Os índios, em maior número e com maior poder de pressão, ganharam temporariamente estatuto de “gente” na prática governamental. Os ribeirinhos seguem um não ser – escutado. Ao olhar para o atual momento histórico, o pesquisador Mauricio Torres diz: “O inimigo não é mais o pistoleiro do grileiro, passível de ser olhado nos olhos e enfrentado. Todos agora se sentem impotentes frente à ação do governo em prol das hidrelétricas. O inimigo agora é maior”.
Essa é a história de Montanha e Mangabal. Talvez o começo do fim da história.
Eliane Brum é escritora, repórter e documentarista. Autora dos livros de não ficçãoColuna Prestes - o Avesso da Lenda, A Vida Que Ninguém vê, O Olho da Rua, A Menina Quebrada, Meus Desacontecimentos e do romance Uma Duas. Site: elianebrum.com Email: [email protected] Twitter: @brumelianebrum
Leia mais artigos de Eliane Brum aqui
1 comentário
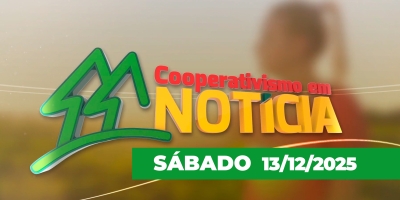
COOPERATIVISMO EM NOTÍCIA - edição 13/12/2025

Minerva Foods avança em duas frentes estratégicas e alcança categoria de liderança do Carbon Disclosure Project (CDP)

Pesquisador do Instituto Biológico participa da descoberta de novo gênero de nematoide no Brasil

Secretaria de Agricultura de SP atua junto do produtor para garantir proteção e segurança jurídica no manejo do fogo

Manejo do Fogo: Mudanças na legislação podem expor produtores a serem responsabilizados por "omissão" em casos de incêndios

Primeira Turma do STF forma maioria por perda imediata do mandato de Zambelli









Eduardo Basílio Uberlândia - MG
E assim, de represa em represa, de usina em usina, grande ou pequena também, vamos perdendo de maneira grotesca nosso ambiente e com ele nossas histórias,lembranças e raízes. Saudades do canal de São Simão, das furnas de Entre Rios, e da força de Sete Quedas. Apenas lembranças.
Que pena!